#7 Inverno
E o tempo se enfeitando pro São João
As estações do ano, nós herdamos com a língua dos colonizadores europeus. Vemo-las separadinhas, desde criança, em desenhos animados e em outras representações de ampla circulação em nosso meio. Aprendemos o mito grego que explica primavera, verão, outono e inverno, como as coleções de roupa no shopping. O inverno resultaria da extrema tristeza de uma mãe afastada à força de sua filha. Deméter, a mãe, deusa da agricultura e das colheitas, exaurida de seu ânimo pela saudade da filha Perséfone, deixa a terra maninha no auge dessa ausência. Quando se reencontram, é primavera. As quatro estações do ano, um dado da natureza.
Minha mãe diz que, certa vez, estava no alto sertão paraibano, na fazenda Raimundo, onde nasceram e se criaram ancestrais de meu pai, e ela viu o céu se acinzentar escuro, da varanda da casa-sede. Ela contava menos de trinta anos e, nascida e criada à beira-mar do litoral quente e úmido do estado, pouco frequentara aquelas geografias e aquelas demografias, a 450Km da capital. Seu corpo bronzeado de praia exclamou: “Vixe, que tempo mais feio!” Ali perto estavam mulheres da região que trabalhavam na casa, sempre que a família, já estabelecida na costa, aparecia por negócio ou por eleição. Olharam espantadas pra jovem adventícia, desentedidas do que acabavam de escutar, e uma delas, porta-voz, arriscou: “A barra tá é bonita, Dona Flávia. Vai chover!” Minha mãe repete essa história como um dos grandes aprendizados.
Quando a lama virou pedra E Mandacaru secou Quando a ribaçã de sede Bateu asa e voou Foi aí que eu vim me embora Carregando a minha dor (Paraíba, de Luiz Gonzaga e Zé Dantas)
A letra da música provavelmente mais famosa sobre meu estado, a Paraíba, começa com a descrição de um cenário sem inverno, como explicação pro exílio, último recurso de sobrevivência do eu poético, pra onde se segue com a carga de uma dor feito um daqueles monolitos graníticos que se encontram no cariri paraibano.
Já adulto, eu me lembrei do episódio narrado por minha mãe, quando vi meu avô, sertanejo daquela mesma região, chegar à sala de seu apartamento no nono andar da orla de João Pessoa, olhar o horizonte sobre o mar pela varanda e proclamar: “O tempo tá se enfeitando pra chover.” Da varanda se via o céu se acinzentar escuro.
Quer ver cenário?
É o vermelho da aurodidade
É a claridade amarelada do amanhecer
É ver correr um aguaceiro pelo rio abaixo
É ver um cacho de banana amadurecer
Anoitecer vendo o gelo do branco da Lua
A pele nua com a Lua a resplandecer
É ver nascer um desejo com a invernia
É a harmonia que o inverno faz nascerEsses versos de Jessier Quirino, recentemente reembelezados pela voz de Juliana Linhares, vêm da canção “Bolero de Isabel". Não fazem sentido nenhum em certas latitudes onde morei. Em Genebra o inverno é de céu cinza, muito chuvisco e de alguma neve, mas pouca. O verde resiste, mas é muito residual. As árvores perdem as folhas, não há lavouras no campo, e as pessoas circulam bem menos ao ar livre, que repele o couro da gente com seus poucos ou negativos graus. Em Montreal, é pra valer: é ditadura do branco da neve espessa sobre as coisas, é a silhueta das pessoas uniformizada por casacos pneumáticos, é praticamente o desaparecimento da rua e de suas forças exusíacas, exceto para o que seja crucial. Inverno nesses lugares é tempo de nãos, de estoicismo e de espera. É travessia, não pouso. É coração enlutado de mãe. É o mais próximo do caos e da morte.
Chamavam de arribaçãs as rolas sertanejas que desciam, batidas pela seca, para o litoral. Vinham em bando como uma nuvem, muito no alto, a espreitar um poço de água para a sede de seus dias de travessia. E quando o avistavam, faziam a aterrissagem em magote, escurecendo a areia branca do rio. Nós ficávamos à espreita, de cacete na mão, para o massacre. E a sede das pobres rolas era tal que elas nem davam pelos nossos intuitos. Matávamos a cacetadas, como se elas não tivessem asas para voar. A seca comera-lhes o instinto natural de defesa. Depois, no colégio, quando no Gênio do cristianismo, eu lia uns versos falando dos pássaros da Bretanha, que fugiam do inverno de sua pátria, vinha-me a saudade das pobres rolas sertanejas que trucidávamos.
(Menino de Egenho, de José Lins do Rego)
O trecho de Menino de Engenho, narrado do ponto de vista de um garoto que vive na várzea úmida, de tradição canavieira, do rio que deu nome ao estado da Paraíba, compara, na memória, as arribaçãs às aves migratórias da Bretanha, semelhantes no ato de fugir. Só que, lá, elas fogem do inverno, e as arribaçãs, do anti-inverno.
Lá um dia, para as cordas das nascentes do Paraíba, via-se, quase rente do horizonte, um abrir longínquo e espaçado de relâmpago: era inverno na certa no alto sertão. As experiências confirmavam que com duas semanas de inverno o Paraíba apontaria na várzea com a sua primeira cabeç d’água.
[…]
O povo gostava de ver o rio cheio, correndo água de barreira a barreira. Porque era uma alegria por toda parte quando se falava da cheia que descia. E anunciavam a chegada como se se tratasse de visita de gente viva: a cheia já passou na Guarita, vem em Itabaiana…
(Menino de Egenho, de José Lins do Rego)
Inverno é o oposto de infertilidade e morte na maior parte do Nordeste. Na vastidão territorial do semiárido, o inverno cursa com a eclosão da gema do desejo e com a vida que decorre dele. Tudo se organiza, se ajeita, se harmoniza. A mata terroso-esbranquiçada da caatinga ganha em verde na mesma intensidade da luz exagerada que o Sol emana por lá. É um assombramento de aparição.
Quando chove no sertão O sol deita e a água rola O sapo vomita espuma Onde um boi pisa se atola E a fartura esconde o saco Que a fome pedia esmola (João Paraibano em música de Cordel do Fogo Encantado) Sofregamente, o rapaz estendeu a cabeça fora da janela. Entreabriu os lábios, recebendo no rosto, na boca, a umidade bendita que chegava. E longamente ali ficou, sorvendo o cheiro forte que vinha da terra, impregnado dum calor de fecundação e renovamento, deixando que se lhe molhasse o cabelo revolto e lhe escorresse a água fria pela gola, num batismo de esperança, a que ele deliciadamente se entregava, sentindo nas veias, mais ativo, mais alegre, o sangue subir e descer em gólfãos irrequietos. (O Quinze, de Rachel de Queiroz)
O São João é a festa da umidade desse inverno. É o esbanjo de gente que costuma ser “faca só lâmina”, ter uma “força que nunca seca pra água que é tão pouca” e não chorar por problema pequeno. É um tempo tão marcante pra quem o viveu — apesar de tão pouco e mal representado no que se difunde do semiárido pras terras longe dali —, que alicerça toda uma vertente do cancioneiro brasileiro sobre a saudade de um paraíso perdido e o desejo de retorno à terra que só se deixou contra a vontade, “no último pau de arara". E é por isso que o São João é o Natal do sertão nordestino, e, se Jesus tivesse nascido ali, certamente seu aniversário teria sido anotado em junho.
Hoje, 24 de junho, é Dia de São João, feriado na Paraíba. Hoje eu mando um abraço pra ti, pequenina!
Lembrou de alguém? Compartilhe!





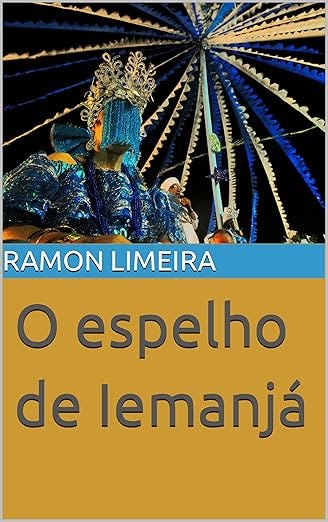

Eu vou ficar cansativa elogiando essa newsletter! Mas adorei demais as referências e essa costura de ideias. Quando comecei a ler, me dei conta de que a minha primeira referência de inverno foi Campina Grande em junho. Todo ano mamãe preparava pijamas compridos pra nossa viagem pra Serra da Borborema. Ou seja, concordo plenamente com a sua leitura e adorei repensar essa estação.